
Watch
Extirpar as raízes do racismo de dentro de mim
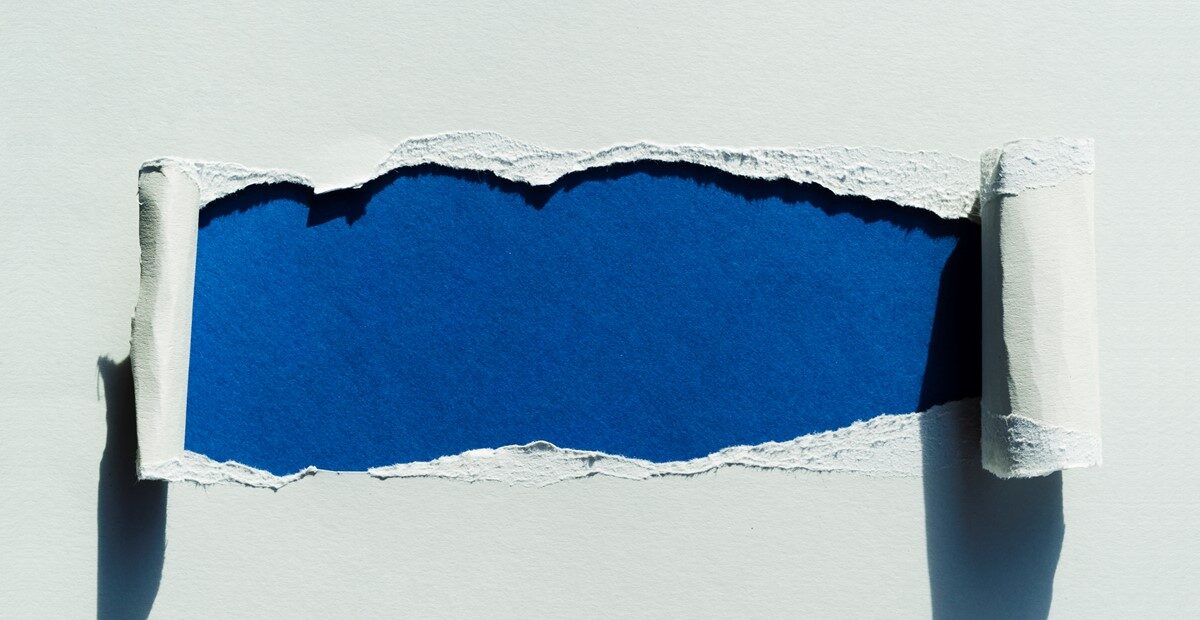
Propomos a história escrita em primeira pessoa por Nancy O’Donnell, psicóloga americana que mora em Loppiano (Fi), a mariápolis permanente internacional do Movimento dos Focolares na Itália. Incitada pela onda de protestos que se seguiram à morte de George Floyd, em 25 de maio, Nancy, em sua narração, relembra os anos da batalha pelos direitos civis em seu país, seu desejo de justiça e o compromisso de extirpar as raízes do racismo.
Foi uma experiência emocionante escrever essa história depois de tantos anos. Às vezes, olhando para trás, eu me pergunto como a realidade seria diferente se tivéssemos permitido que figuras como Martin Luther King e Bob Kennedy realizassem seus sonhos. E ao lado desses nomes ressurge na mente uma imagem, que parece uma cena de filme, mas não é.
Março de 1965. Uma jovem que tinha acabado de completar dezoito anos, estava no segundo semestre da faculdade, deitada na cama do dormitório, estudando para um teste. Uma amiga querida abre a porta do quarto e exclama: “Vamos para o Alabama! Vamos participar de uma marcha. Venha conosco! Você só precisa pedir permissão aos seus pais!”. Quase sem pensar, ela pula da cama, corre pelo corredor até o telefone e liga para casa (não há telefones celulares em 1965). “Graças a Deus alguém da nossa família decidiu fazer alguma coisa”, é o único comentário de seu pai.
Aquela universitária não sabia o quanto as palavras do pai mudariam sua vida.
Aquela universitária sou eu.

Com outros jovens de nossa pequena Universidade Católica feminina de Pittsburgh e com um grupo de estudantes de universidades próximas, embarcamos em um ônibus com destino a Montgomery, no Alabama. Só podíamos levar uma mochila pequena com alguns itens pessoais, mas não nos importávamos! Todas nós acreditávamos na mesma causa e tínhamos uma enorme carga de energia.
Para os aficionados por história, descrevo um pouco o contexto em que nos encontrávamos. Estávamos bem no meio do movimento dos direitos civis da década de 1960. Uma marcha de protesto organizada pela cidade de Selma em Montgomery, capital do Alabama, havia sido brutalmente interrompida pela polícia. Aquele dia recebeu o nome de “Bloody Sunday” (Domingo Sangrento). Entre os manifestantes havia um pastor de Boston, o reverendo James Reeb, ministro da Igreja Unitária Universalista, pai de quatro filhos e ativo no Movimento dos Direitos Civis. Dois dias depois dessa marcha, o reverendo Reeb foi assassinado a sangue frio nas ruas de Selma. Essa foi a “gota” que fez o vaso transbordar e levou aquele grupo de estudantes universitários, ingênuos e entusiasmados, a percorrer cerca de 1500 km com o único objetivo de marchar em busca de justiça para o reverendo Reeb.
Retorno ao ônibus para o Alabama. Durante a viagem, cantamos canções de protesto, conversamos, dormimos e refletimos sobre o que nos esperava. Em algum momento, deve ter sido um pouco depois do amanhecer, um jovem se levantou e foi ao microfone. Ele usava a camiseta típica do SNCC (Student Non-Violent Coordinating Committee: Comitê de Coordenação Não Violenta de Estudantes), do qual eu também era membro. Ele começou a nos instruir sobre como nos proteger em vários cenários possíveis: polícia montada, esquadrões da polícia com bastões, gás lacrimogêneo etc. Lembro que o terror e um sentimento de incerteza cresciam dentro de mim enquanto ele falava, mas tomei cuidado para não deixar esses sentimentos transparecerem no meu rosto: tentei imediatamente mostrar uma expressão corajosa, como a que todos os outros ao meu redor tinham. Uma dica em particular me impressionou: não se separe da multidão, se você se isolar, certamente será derrotado. Essa é a tática deles.
Chegamos a Montgomery no final da tarde. Tivemos uma manifestação durante a qual alguém me aconselhou a usar minha camiseta do avesso. O problema era que o nome da minha escola estava escrito “Mt. Mercy College”. “A única coisa pior do que ser uma garota branca do Norte que vem aqui para marchar pelos negros é ser católica.” Outra lição de vida que foi como um tapa no rosto.
Em março, faz calor no Alabama, e o dia seguinte estava bem ensolarado. Não tenho ideia de quantos éramos, mas certamente não éramos milhares. Lembro-me que cantei muito, de braços dados com aqueles que estavam ao meu lado, enquanto olhava para as pessoas que nos observavam sem palavras e me perguntava o que elas estavam pensando.
Talvez eu estivesse muito concentrada com minhas reflexões, mas em um certo momento percebi que estava muito próxima dos últimos manifestantes e não estava mais de braço dado com os outros. Em frente ao Capitólio do Estado, a marcha parou e a cantoria também. Por alguns momentos houve silêncio. Eu me virei e vi uma fila de policiais montados, prontos com seus cassetetes. Havia fileiras semelhantes dos dois lados da rua. De repente, todos se moveram em nossa direção. O pânico eclodiu, todos nós gritávamos. Comecei a correr, perdi um sapato e me vi sozinha, completamente separada do grupo. Um policial estava logo atrás de mim e balançava o cassetete de forma ameaçadora. Eu me agachei, tentando proteger a cabeça, esperando o golpe. Mas naquele instante alguém me agarrou e me levou de volta para a multidão que estava se retirando. Eu tive tempo de sentir o golpe destinado à minha cabeça passar como o vento pelo meu cabelo. Quando estava “em segurança”, cercada por outros manifestantes, olhei para trás. Aquele policial estava me seguindo a uma curta distância. Quando nossos olhares se cruzaram, eu só vi ódio em seus olhos. Tive a impressão de que ele não me via como pessoa, mas como o que eu representava: o fim daquele mundo que ele conhecia, um desafio ao que ele havia aprendido e internalizado desde a infância. Continuei caminhando, sentindo a respiração do cavalo no meu pescoço. Aquele olhar permaneceu impresso em minha alma com se tivesse sido marcado com ferro em brasa.
No Alabama da década de 1960, em plena segregação racial, alcançamos a “segurança” apenas entrando no bairro negro da cidade, onde eles nos receberam calorosamente com abraços e aplausos.
No final da tarde, recebemos a notícia de que o reverendo Martin Luther King estava chegando, e todos nós nos enfileiramos ao longo da rua por onde seu carro passaria. Dessa vez eu estava na primeira fila. Quando o carro dele parou por breve tempo na minha frente, eu o alcancei pela janela aberta e apertei a sua mão. Ele olhou para mim e disse: “Obrigado por ter vindo”. Eu nunca esquecerei os olhos dele. Eles transmitiam amor e bondade, exatamente o oposto do que eu havia experimentado antes. Esse olhar, em minha memória, ocupou um espaço ao lado do olhar anterior e, nas semanas e meses seguintes, essas duas imagens representaram a questão fundamental da minha vida naquele momento: quem venceria? O amor ou o ódio? A bondade ou o mal?
Voltei à minha vida universitária, mas algo em mim havia mudado para sempre. Quando King e Bob Kennedy foram assassinados, em 1968, as esperanças da minha geração em uma mudança desmoronaram. Acabara de me formar e estava indo para a faculdade em Nova York, praticamente convencida de que o mal vencera. Uma sensação de desespero me invadiu, e me convenci de que deveríamos simplesmente explodir o mundo inteiro e começar tudo de novo.
O que me salvou dessas reflexões desastrosas foi um encontro que ocorreu no ano seguinte à minha experiência no Alabama. Havia pessoas, seguidores de Chiara Lubich, profundamente convictas, e realmente convincentes, de que Deus, que é Amor, é a força mais poderosa do mundo. Fiquei muito atraída pelas ideias e pelo estilo de vida deles. Levei alguns anos, mas em 1969 decidi atrelar o meu carro à estrela de Chiara e seguir aquele seu método, o amor, que eu acreditava ser poderoso o suficiente para provocar mudanças positivas, tanto em um mundo destruído quanto em mim.
Por dois anos, fui fazer uma experiência em Loppiano, uma das mariápolis permanentes internacionais do Movimento dos Focolares. Aqui conheci jovens do mundo inteiro. Quando chegaram quatro jovens dos Camarões, eu cuidei delas. Eu tinha aprendido algumas palavras em italiano e, portanto, pude ajudá-las nas traduções. Uma noite, tivemos a tarefa de lavar a louça com uma máquina de lavar louça industrial. Enquanto explicava a elas como usar essa máquina, descobri dentro de mim uma atitude que não podia acreditar que era minha: eu me sentia como um colonizador, ensinando algo a um povo inferior. Eu me senti mal, até fisicamente mesmo, e tive que ir embora para tentar elaborar aquilo que eu acreditava que Deus estava tentando me dizer. Eu precisava ir mais em profundidade, se quisesse extirpar as raízes do racismo de dentro de mim.
Outro momento crucial foi anos depois, quando eu trabalhava como psicóloga em uma clínica no estado de Nova York. Um colega afro-americano e eu conversamos sobre o uso da palavra “negro”. Percebi que quase todo uso da cor preta indicava algo negativo ou perigoso. Também me lembrei dos velhos padrões do faroeste, nos quais o “vilão” usava roupas pretas e montava um cavalo preto. Assim, muitas mensagens subliminares nutriram a distância e o medo entre brancos e negros. Decidi nunca mais usar essas expressões e tentei ser fiel a essa escolha ao longo dos anos.
O último despertar brusco foi em 2018. Começou alguns anos antes, enquanto lecionava psicologia na universidade. Era outono. Entrei no departamento para o primeiro dia de aula e vi uma nova professora em um escritório, que supus que fosse afro-americana. Corri para o escritório dela, abracei-a e exclamei: “Finalmente uma mulher negra em nossa faculdade! Nós nos tornaremos grandes amigas!”. Descobri muito mais tarde que, apesar de sua atitude exterior de cortesia em resposta à minha saudação, ela estava dizendo dentro de si: “Isso nunca vai acontecer”. Um dia, pedi que ela viesse conversar com meu curso de psicologia sobre a experiência das mulheres negras. Ali também descobri que suas origens eram jamaicanas, e não africanas: eis outra lição sobre como não fazer hipóteses infundadas. Realmente nós nos tornamos grandes amigas e conseguimos manter contato mesmo depois da minha mudança para a Itália. Há pouco tempo, apresentamos um relatório conjunto em uma conferência em Lublin, na Polônia, sobre como nos tornarmos pessoas de diálogo. Foi ali que nos divertimos muito lembrando nosso primeiro encontro. Enquanto conversávamos, um novo entendimento se abriu para mim: se a situação fosse inversa, ela nunca se sentiria livre para entrar no meu escritório e me abraçar. Ela mesma me confirmou isso. De fato, minha liberdade para fazer aquilo estava enraizada no “privilégio dos brancos”. Eu tinha agido com a certeza de que ela iria me receber e apreciar o meu gesto. Sou profundamente grata a essa mulher extraordinária que me ajudou a me conhecer e a encontrar outro nível de preconceito que eu precisava descobrir e enfrentar.


Hoje, ainda morando na Itália, acompanho as notícias dos Estados Unidos com tristeza e medo. Tendo duas sobrinhas de raça mista, os eventos afetaram minha família de perto. Certamente envelheci muito desde 1965, mas minha paixão pela justiça social só cresceu ao longo dos anos. Acredito firmemente que cada um de nós é chamado a ser um agente de mudança de todas as maneiras possíveis. Por isso escrevi este artigo. Espero que essas minhas palavras possam atuar como catalisador e estimular alguém a pensar profundamente e a agir com coerência.
Nancy O’Donnell
Fonte: Loppiano.it
Imagem: Foto Freepik – www.freepik.es





